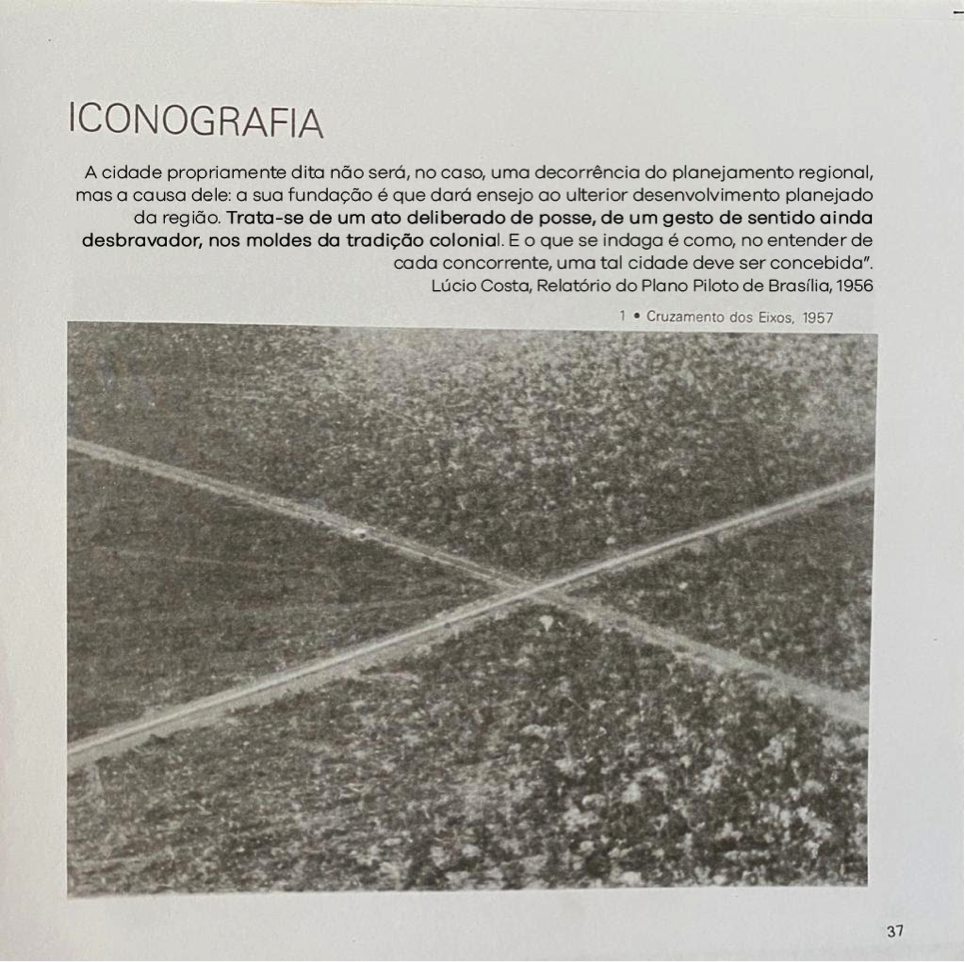Brasília: cidade colonialista em busca de reconstrução
Colonialista. Talvez eu tenha fugido a vida inteira de associar essa palavra a Brasília – cidade onde eu nasci e que, com seu ritmo bucólico e seu horizonte aberto, pauta como eu funciono, quem eu sou. Mas foi essa a grande ficha que caiu no ano passado, enquanto eu pesquisava temas e pessoas pra discutir Brasília na Feirinha do Quadrado.
Foi num texto do professor José Geraldo, que participou do primeiro debate da Feirinha, que reli um trecho do relatório do Plano Piloto de Brasília, escrito pelo Lucio Costa na sua proposta vencedora do edital que escolheu o projeto urbanístico da nova capital:
“Nos moldes da tradição colonial”, eu me disse – como se estivesse lendo aquilo pela primeira vez na vida. A ficha chega fez barulho na parte de trás do meu cérebro. Segregação, desrespeitos, invisibilização, higienismo, concentração de renda: não é coincidência – é projeto.
Hora de encarar de frente nossa origem, traumas, o que fizemos e faremos disso. Foi assim que chamei pro segundo debate da Feirinha o arquiteto Guilherme Wisnik, professor da USP, ex-curador da Bienal de Arquitetura de São Paulo, estudioso de Lucio Costa, crítico do modernismo. Na nossa retaguarda, claro – que eu não vou pra essa guerra sozinha – chamei pra debater conosco a Liza Maria Souza de Andrade, urbanista e professora da UnB, responsável pelo grupo de pesquisa Periférico.
O que saiu dessa conversa foi tão novo pra mim, tão intenso, tão importante, que essa matéria está gigantesca – como diria a Dani, é uma matéria da Piauí. Peço desculpas, mas não consegui editar mais. Publico esse texto aqui como um documento, como uma sessão de psicanálise brasiliense, como uma exortação à refundação e atualização dessa cidade amada em outras bases, mais humanas, igualitárias, decoloniais, integradas com o humano e com a natureza em sua acepção mais bruta e selvagem. Lembrando que vocês podem, claro, assistir ao debate na íntegra aqui.
Como você vê Brasília, seu projeto, seu nascimento?
Guilherme Wisnik: “Quando Brasília foi inaugurada, houve muitas reações – uma maioria de aprovação e entusiasmo, naquele momento. Não canso de me surpreender quando leio no “Inteligência Brasileira”, do Max Bense, que, entusiasmado com Brasília, chega a escrever que “o Brasil é o país mais cartesiano e iluminista do mundo” e que “toda a esperança do racionalismo ocidental” estava nas costas do Brasil.
Brasília deu essa deixa. Brasília era a consumação de um acalentar de um projeto moderno, da ideia de obra de arte total, da síntese das artes, que vinha desde o século XIX.
Só que esse projeto esbarra na pergunta: projeto pra quem, né? Pra uma utopia social-democrata – que não é socialista, é social-democrata. Uma ideia de um país socialista periférico que pudesse atingir uma grande igualdade social através de benefícios, de um Estado provedor. Onde todas as classes sociais poderiam morar no Plano Piloto. Numa época em que o conceito de pessoa era entendido enquanto máquina. Um ser humano que responde a funções pré-determinadas. Essa função é uma concepção muito superada, que vai ser muito criticada quando o urbanismo moderno entra na linha de ataque a partir dos anos 60. Quando se fala na crise do movimento moderno e surgimento do pós-modernismo é uma crise sobretudo do urbanismo moderno, mais que da arquitetura moderna. Dessa visão de cidade segregada, feita, como diria o Gropius para a Bauhaus: “projetar da colher até a cidade com o mesmo padrão”. Essa ideia de que você pode projetar uma cidade inteira como se fosse uma linha de montagem – esse paradigma entra em crise totalmente”.
Liza Maria Andrade: “Brasília surgiu próximo a um quilombo, e quem a fez ignorou essas terras. A gente trabalha com o Quilombo Mesquita, a 60km de Brasília, que foi muito importante pra fundação de Brasília. Ele começou no século XVII, na época do Ciclo do Ouro. Havia o Mesquita, um português que vivia lá, que com a alforria dos escravos deixou a terra para os ex-escravos que foram dividindo em famílias, que foram herdando essas terras.
Na época da construção de Brasília, o quilombo abastecia a cidade. O Catetinho foi construído por oito pessoas que eram do quilombo. E a agricultura, a produção de alimentos, doces, vinham da produção dessas pessoas, e isso era ignorado – pra começar a história de Brasília. É uma cidade que começa sem considerar as pessoas.
Daí vêm as cidades-satélites. Os operários que vieram construir Brasília, os candangos, que não foram incorporados nesse processo do projeto de planejamento. O Núcleo Bandeirante surgiu em 1956, pra abrigar esses operários. A Candangolândia em 1956, Taguatinga em 1958, o Cruzeiro em 1959, Ceilândia na década de 70, né?, para a “erradicação das invasões”. E hoje Ceilândia é que abriga o maior número de ocupações irregulares no DF, é onde tem maiores focos de pandemia neste ano de 2020.”
Ignorou-se quem eram essas pessoas que estavam aqui antes. O resultado, não tem outro nome pra isso, é uma cidade que nasce como projeto colonial. O que tento responder aqui é: tem como reverter isso?

Guilherme Wisnik: “Não, não tem como voltar isso. O que se pode fazer é uma revisão crítica dessa história, né? Na exposição “Infinito Vão”, montada na Casa da Arquitetura em Portugal e que recentemente abriu no SESC 24 de Maio, tentou-se olhar o percurso da arquitetura moderna no Brasil. Tem um momento muito importante em que Valter Hugo Mãe lê esse trecho do projeto do Plano Piloto que você citou e lê também a Carta de Pero Vaz de Caminha. São os dois documentos de batismo do Brasil: o batismo colonial-colonial e o batismo moderno-colonial, que de alguma maneira refundou o Brasil modernamente – mas de alguma maneira refundando aquela tradição.
O Mario Pedrosa fala muito disso, ele mesmo reforça essa visão do Lucio Costa: “atrás de nós não tinha nada, é puro vazio”. É como se fosse puro mato. O próprio Pedrosa desenvolve esse conceito dele: “no Brasil, nós somos condenados ao moderno”. Por quê? Pela ideia (colonial) de que não tínhamos passado a preservar. Ele compara a situação do Brasil com a do México e a do Peru, onde existiam civilizações pré-colombianas, que davam aos locais um motivo para resistir contra o colonizador e reivindicar um passado que fosse a origem de sua modernidade. Nós, no Brasil, não, tínhamos apenas índios nômades, tribos esparsas, que não deixaram nada. Portanto, um grande vazio atrás de nós, que fez com que paradoxalmente se tínhamos uma tradição frágil, por outro lado não tínhamos nada a conservar ou onde nos agarrar, portanto pudemos ser modernos livremente.
Hoje, tal como as coisas se colocam, tanto o Lúcio Costa quanto o Mario Pedrosa estariam passíveis de cancelamento nas redes sociais. A existência desse quilombo, que a Liza traz pra nós, pra mim, é completamente novo. Que no Brasil tivéssemos muitos povos indígenas dignos de um olhar, e que tivéssemos uma cultura africana trazida pra cá com uma série de peculiaridades e que nada disso tenha sido levado em conta do ponto de vista de uma herança cultural, isso é um fato. Agora que Brasília tivesse também uma pré-existência, pra mim é uma surpresa, que eu sempre pensei que Brasília era um vazio total.”
Liza Maria Andrade: “É, mas a gente tem também o exemplo do Santuário dos Pajés, em pleno Noroeste, que o Guilherme também pode conhecer. O Noroeste é um bairro nobre, no meio do Plano Piloto. Houve uma resistência grande de se manter o santuário dos Pajés e eles conseguiram pelo menos manter um trecho, né?, depois de muita luta com a sociedade apoiando. Isso mostra que as pessoas não são consideradas no projeto e planejamento das cidades.
Mas voltando ao Lucio Costa, eu não gosto de falar mal do Lucio Costa, não, sabe? Porque a gente usufrui de várias coisas boas da cidade. Eu quando ando aqui no Plano Piloto eu digo: gente, mas que coisa boa é essa? Só que eu queria que isso fosse pra todo mundo.
O Lucio Costa veio em um momento da arquitetura e do urbanismo que era isso o que estava acontecendo. O gesto do arquiteto era o mais importante. O desenho despolitizado, fora do contexto da realidade, era isso que estava acontecendo. Ele tá no meio disso tudo. Ele tenta fazer um trabalho que leva em conta algumas características importantes do sítio, e propõe ali a asa do avião – tem até uma frase do Gog em que ele fala assim: “Brasília, Brasília, Brasília, cidade-avião, voo sem direção”.
O próprio juri do concurso para escolha do projeto do Plano Piloto cobrava a parte de arquitetura e a parte funcional, e ele atendeu os critérios que foram colocados. Acho que Lucio Costa, acho que ele foi até um pouco ingênuo na época – assim como Niemeyer, que se considerava comunista. Eles viviam essa imposição do desenho – e é isso que eu combato dentro da escola de arquitetura, isso que para mim é que é o grande problema.
Aqui em Brasília temos dois lados: o desenho do arquiteto imposto em várias regiões, que não considera as preexistências, os arranjos produtivos, as redes solidárias que existem no território; e os arranjos tecnocráticos, da década de 40, que veio esse planejamento questionando o desenho do arquiteto. E na década de 60 já se questiona os dois. Aí surge o desenho urbano e interdisciplinar – eu sou muito dessa época, de quando vem Jane Jacobs questionando esse desenho do arquiteto, impositivo, despolitizado. Eu sou discípula do Christopher Alexander, que combateu muito o urbanismo moderno. Isso é considerar essas relações que existem no território e as que estão emergentes. O gesto do arquiteto não é mais importante, não o mais importante. É você entender as relações que existem, decodificar esses padrões e trabalhar com essa realidade”.
Guilherme Wisnik: “O Lucio tem uma passagem linda naquele filme O Risco: Lucio Costa e a utopia moderna. O Lucio nunca mais tinha voltado a Brasília, né?, e então ali nos anos 80 ele volta, e nessa ida a Brasília ele é filmado, e essa cena acontece na plataforma da rodoviária. Ele está ali com aquele paletó dele naquela escada rolante, tem um punk atrás dele na escada, ele fica meio desconfortável. É muito popular aquele lugar. Ele diz pra câmera que quando ele projetou aquele edifício tinha imaginado uma coisa europeia, cosmopolita, uns cafés, uma coisa assim, e no entanto, a realidade é bem diferente. E ele diz assim: “e o que está aqui, à minha volta, não é nada do que eu imaginei, é outra coisa, é o Brasil real, e esse Brasil real é mais bonito do que o que eu imaginei”.
Acho maravilhoso ele dizer isso, porque é uma aceitação não-utópica, porque normalmente o arquiteto fica tentando defender a exemplaridade daquilo que ele imaginou. E sempre o imaginado parece melhor do que o que acontece na verdade, e o arquiteto está sempre frustrado porque nada dá muito certo, tudo aquilo que a gente quer. Tem problema de orçamento, o cliente não gosta, o cara não constroi direito, mil coisas conspiram, e a posição do Lucio em relação àquilo é de uma generosidade”.
Se não tem como voltar, de onde pode vir a inspiração para a construção de uma nova lógica mais própria, autoral, respeitosa, autêntica?

Liza Maria Andrade: “Vou voltar a citar o Gog: “Os filhos das satélites bolaram outro plano. A capital do rock agora é a capital do mano”.
É impressionante a vida pulsante das satélites. Ceilândia tem um movimento cultural que pulsa. Temos dois orientandos que fizeram trabalho de praças e urbanismo tático, eles reuniram MCs, fizeram um trabalho na Ceilândia. As RAs mais ricas estão começando a trocar com ações da periferia. O que a gente tenta fazer quando vai nesses lugares é mapear isso – e não tem uma receita, não tá pronto, é movimento. O Christopher Alexander fala muito isso: os projetos de arquitetura e urbanismo deveriam ser considerados como movimento, e não como uma coisa estática, em que a população vai se apropriando e vai trocando com esses códigos, padrões e redes.
Eu trabalho em lugares muito pobres – até mais que as satélites, as ocupações informais. Nós temos 508 ocupações informais no Distrito Federal, que não estão no Plano Diretor. Eles só sobrevivem porque existe uma solidariedade. São territórios auto-construídos – eles constroem suas casas sem a ajuda do Estado. Eu conheço mulheres que fizeram infraestrutura das vias – que abriram as ruas de acesso a suas casas. Existe uma riqueza de trocas, e a gente deveria considerar isso na hora de fazer os projetos, de urbanismo e até mesmo de arquitetura. Quando a gente vai fazer um projeto informal, você não aprende isso na universidade – a fazer um projeto de trás pra frente. Porque normalmente você tem um terreno vazio e aí você leva os estudantes e diz: “vamos fazer um projeto”, nesse terreno “vazio”. E você tem mil opções pra fazer esse projeto – a gente trabalha muito com metodologias nesse momento pra não ficar na base do achismo, pra não se perder entre tantas opções. Só que quando você tá numa ocupação informal, é o contrário. Você já parte de alguma coisa pronta ou semi-pronta. E aí como é que você ensina isso pros estudantes, se eles aprenderam o curso todo que eles têm que fazer desenho pra espaço vazio? É uma outra realidade – você tem que fazer um trabalho minucioso, a gente começa a usar drones pra mapear, conhecer essas casas que estão semi-prontas, que era um barraco e constroi uma parede.”
Guilherme Wisnik: “Contrariamente ao que a utopia do projeto alimentou ao longo de todo o Século XX – como se as áreas virtuosas da cidade fossem as áreas projetadas, dotadas de racionalidade – o que a gente vê em muitas cidades do mundo hoje é que muitas vezes os setores mais vibrantes da cidade, mais ricos, são os informais. Não as praças ou os parques, mas os lugares dos ambulantes, que estão ali entre um terminal de ônibus e um do metrô, que estão em lugares onde tem muita gente passando. E esses nós de sistema de transporte, tomados pela informalidade do comércio, acabam virando lugares muito vibrantes e ricos no sentido da vida urbana.
Um projeto muito interessante sobre isso é um projeto chamado Post-it City, que foi feito por um grupo de Barcelona, que depois se expandiu. São cidades ocasionais, que são produzidas por essas infraestruturas temporárias, informais, que acabam se tornando preponderantes. Um exemplo que vemos em Lagos, na Nigéria – muitos dos baixos de viadutos que já são carcaças foram dominados por mercados informais de pirataria de eletrônicos, que são vendidos no mercado do Oriente Médio e são a principal receita da economia da Nigéria. Às vezes você tem uma coisa muito importante do ponto de vista econômico e a origem dela é informal. Não dá mais pra achar que as cidades são apenas o formal, que são aquilo que é o projetado. Não é mais assim. Existe uma dinâmica do informal que precisa ser entendida e assimilada como fundamental na lógica das cidades contemporâneas. Em Brasília isso deve ser tenso mesmo porque Brasília é a cidade-estufa, a cidade protegida, o Plano Piloto é tombado, tem todo esse problema de não se descaracterizar, não deixar macular essa pureza por todos esses elementos alienígenas.”
Encontrar a via própria de Brasília, então, passa por assumir seus conflitos e tensões? Sociais mas também urbanas – por exemplo, entre o projetado, tombado, regular e o irregular, o espontâneo?
Guilherme Wisnik: “Acho sempre que o que a gente devia defender como ideia do espaço público é que o espaço público é o lugar do conflito, essencialmente. Porque nossa sociedade é conflituosa e desigual. Então é ideológico você pensar que o espaço público vai ser pacificado – se ele for pacificado tem alguma coisa errada. Ou ele não é espaço público – ele foi privatizado – ou ele é muito vigiado, tem uma segurança muito forte.
Agora se o espaço público é público de verdade, ele traz conflito, os conflitos são inerentes – a nossa sociedade é feita de conflitos. Então acho que espaços públicos bem-sucedidos são aqueles que permitem que o conflito aflore – e isso é um bom teste pros espaços públicos. Se não tem conflito nenhum ali, está faltando uma dinâmica pública. Pode ser que seja um lugar abandonado, depredado, decadente, e quando alguma evento permite que volte um uso para aquele espaço, as diferenças vão acontecer, e isso é bom.
Seria bom que isso acontecesse em Brasília. É uma pena que quando isso acontece em Brasília são em situações extremas, não de conflito – porque o conflito é o que?, é uma situação de dissenso que precisa ser mediada pela esfera pública. A esfera pública é a instância capaz de mediar a esfera pública de maneira a produzir diálogo. E o que a gente vê aí em Brasília, o maior exemplo disso é o muro que foi construído na Esplanada dos Ministérios no dia da votação do Impeachment da Dilma. Isso na minha opinião não é mediação nenhuma, pelo contrário, é a impossibilidade do diálogo de um país dividido e mais uma vez Brasília mostra isso muito claramente.”
Parece muito claro que a utopia que pautou a construção de Brasília não é mais adaptada aos nossos tempos. Se fôssemos construir uma nova capital hoje, qual seria a utopia que pautaria esse projeto de cidade?
Guilherme Wisnik: “A nova utopia hoje não seria uma utopia, seria uma heterotopia. Uma utopia é um não-lugar, é uma negação do lugar existente em nome de uma coisa perfeita. A humanidade perseguiu essa ideia durante muito tempo, acho que hoje a gente já rodou bastante pra poder minar essa ideia. A heterotopia é um espaço outro, não é não-lugar. Esse espaço outro é a produção de espaços potentes dentro do real, não fora dele. A utopia é uma espécie de sociedade in vitro, como se você formasse uma coisa perfeita e cultivasse aquilo dentro de uma estufa. A heterotopia, não – é a tentativa de encontrar frestas de liberdade dentro de uma sociedade que já existe.
Um pouco como aquele verso do Caetano Veloso na canção Livros: “Porque a frase, o conceito, o enredo, o verso / (E, sem dúvida, sobretudo o verso) / É o que pode lançar mundos no mundo”. Esses mundos no mundo é que são heterotopia. A cosmovisão indígena é toda feita assim: tem muitos mundos no mundo, não é um só, como a gente pensa. Então esse mundo de muitos mundos que nós precisamos constituir, seguindo o exemplo das sociedades indígenas, eu acho que tem que ser o de cidades que se reconciliam com a natureza em grande medida. Ou seja, cidades, onde os rios estão limpos, onde as áreas de várzea são renaturalizadas. Hoje se pergunta: as cidades estão todas construídas, como que se faz pra voltar pra trás? Vai ter que fazer. Renaturalizar os rios, renaturalizar as várzeas, colocar de volta florestas pra porções de cidades, fazer agricultura urbana e orgânica, ter a possibilidade de todos esses componentes do que a psicanálise chamaria de retorno do reprimido.
Mas isso é algo que o moderno não tinha previsto, né? A cidade verde moderna como Brasília é uma espécie de parque bucólico através do qual você circula de automóvel. É como se fosse um pano de fundo – sem desmerecer, eu sei que a vida na superquadra é uma maravilha. Eu estive algumas vezes em Brasília e me lembro de perceber isso nitidamente: que os brasilienses ficam muito chateados com as críticas à cidade; e acho natural isso, porque há de fato uma qualidade de vida, pra quem mora no Plano Piloto, insuperável em relação a outras cidades. É quase uma miragem pra alguém como eu, que vivo numa cidade dominada pela condominialização de tudo, muros, guaritas, cercas elétricas, câmeras – de repente a gente está no Plano Piloto, tudo aberto e transparente, todo mundo circula, é quase inacreditável. Em que mundo que eu tô? Tô dentro de uma bolha de um mundo que foi pensado como se fosse o mundo do futuro e que na verdade foi só ali. Então é um experimento histórico.”
Tem como furar essa bolha pra construir essa heterotopia que o Guilherme falou?
Liza Maria Andrade: “Claro que tem, a gente acredita nisso, somos guerreiros disso. Sou da área sócio-ambiental, trabalhamos com entidades ambientais, tentamos barrar empreendimentos em áreas de nascentes, buscando outras formas de desenho mais emergentes e sensíveis à água. Abordamos os problemas ambientais do Plano Piloto, onde a drenagem é ultrapassada, não funciona. A regeneração vai ter que acontecer – eu trabalho com processos regenerativos, sociais e ambientais, e é nisso que a gente vai ter que trabalhar.
Sobre a heterotopia, quero falar do Brasil Cidades, de que faço parte com a professora Ermínia Maricato. Nosso objetivo é construir uma nova agenda urbana pras cidades brasileiras, tendo em vista o golpe político que a gente sofreu. Sentimos que precisamos retomar e ocupar essas instâncias. Precisamos retomar essas instâncias de poder, unindo movimentos sociais, esferas de poder, universidade, formar uma grande frente.”